1 – Concorda com o Acordo Ortográfico?
Não concordo porque ele assenta numa lógica de empobrecimento da língua portuguesa, em nome de um objectivo de carácter pragmático – a sua melhor divulgação no estrangeiro – para o qual, estou convicto, se revelará inútil. A riqueza do nosso idioma radica, entre outras coisas, na sua diversidade. Uma padronização forçada, ainda por cima desvalorizando a etimologia, a sonoridade, a estética e a harmonia da língua, será sempre de lastimar. O voluntarismo excessivo de que Portugal deu mostras em todo este processo soa a capitulação.2 – Deveria ter havido uma consulta prévia aos profissionais que trabalham com a língua?
Presumo que tenha havido essa consulta. Sucede, no entanto, que transparece uma estranha ligeireza em muitas das soluções consignadas no AO, designadamente no que toca à supressão de consoantes mudas e à acentuação. Alguns casos mais flagrantes, de tão absurdos, entraram já, como se sabe, no anedotário nacional.3 – À luz do direito internacional, como vê o tratado internacional do Acordo Ortográfico, nomeadamente quanto ao número de ratificações exigidas para a entrada em vigor?
Do ponto de vista jurídico, esta é, na verdade, uma questão essencial. Um tratado multilateral restrito (com um número limitado de partes), como é o caso do Acordo Ortográfico (AO), entra em vigor logo que o consentimento a ficar vinculado por ele (através do acto de ratificação) haja sido manifestado por todos os Estados que tenham participado na respectiva negociação. A prática internacional revela, é certo – com respaldo na Convenção de Viena Sobre Direito dos Tratados, de 1969 (CV) –, a existência de muitas situações em que a entrada em vigor de uma convenção internacional ocorre a partir do momento em que se atinja um determinado número de ratificações (inferior ao número de Estados signatários). Simplesmente, essa é uma solução (atípica) que apenas se afeiçoa a tratados multilaterais gerais (com um número muito elevado de partes), numa tentativa de não entravar demasiado a sua conclusão. Quanto ao AO, aquele regime-regra, supracitado (o da ratificação por todos os Estados partes), apoia-se, convenhamos, num argumento a fortiori, porquanto se trata de consagrar uma ortografia comum para o português. Desiderato este incompatível com uma espécie de opting out, traduzido numa hipotética não ratificação por parte de algum ou alguns dos países da Lusofonia.4 – É possível a criação de uma ortografia unificada quando apenas três dos oito Países de Língua Oficial Portuguesa ratificaram o documento?
Eis, precisamente, a pergunta que deve fazer-se. Conforme se disse acima, seguramente que, em tais circunstâncias, não é possível a criação dessa ortografia comum. Tratar-se-ia mesmo de uma contradição nos termos, para a qual, de resto, os signatários do AO se haviam precatado, em 1990, prevendo a sua entrada em vigor quando todos os Estados partes o ratificassem. Ora, importará sublinhar que as disposições de uma convenção internacional relativas às modalidades da respectiva entrada em vigor são de impreterível observância desde o momento da autenticação (assinatura) do documento. Como tardassem, todavia, as ratificações exigidas, surgiu, expeditivamente, em 2004, o II Protocolo Modificativo ao AO, prevendo, ao arrepio do disposto no art. 24.º, nº4 da CV, a entrada em vigor do AO logo que apenas três (!) dos oito Estados de Língua Oficial Portuguesa procedessem à sua ratificação. Algo que, não cabe dúvida, atentou justamente contra o objecto e o fim do tratado. Mas o que, então, verdadeiramente importava era garantir, a todo o transe, aquela entrada em vigor… A isto acresce que mesmo no seio dos países que ratificaram o AO, as divergências sobrevindas são já tantas que parecem entrementes tê-lo ferido de morte.Francisco António de M. L. Ferreira de Almeida (Professor da Faculdade de Direito de Coimbra)
[Transcrição integral*** de entrevista (por escrito) a Francisco Ferreira de Almeida publicada no Boletim da Ordem dos Advogados n.º 88, Março de 2012. “Links” adicionados.]
*** O texto original em acordês publicado pelo “Boletim” da OA foi corrigido, evidentemente.

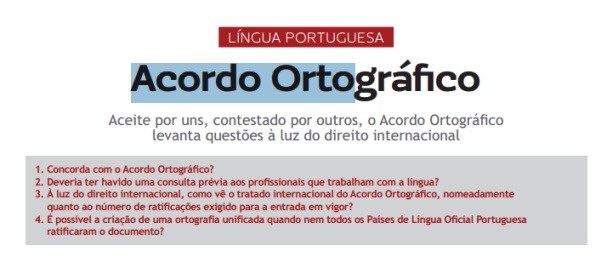


14 comentários
Passar directamente para o formulário dos comentários,
Esta questão não me parece difícil de entender. O tratado do A.O. não vigora na ordem jurídica internacional. Assim sobra que não pode ser imposto na ordem juridica nacional. Não por meio de simples resoluções administrativas.
No entanto os simples parecem ter uma dificuldade confrangerdora em entender a hierarquia das leis.
http://jornalalpiarcense.blogspot.pt/2012/11/esclarecimento-apraz-me-constatar-que.html
Cumpts.
Que horror…
O mal disto tudo, é que o legislador, quer, manda e pode.Como se conseguirá sacar o País do jugo de semelhante canalha? Já aqui li, que estando a língua abrigada por decreto-lei, só outro decreto-lei tem força legal de alteração. Por conseguinte, e uma vez que nenhum decreto foi emitido, o pretenso “acordo” é ilegal,no territorio NACIONAL como ilegais serão todos os documentos redigidos segundo as suas regras.
Isto penso eu, não sendo legista, e se estou errado faça o favor de me corregir quem saiba.
Até aos dias de hoje, não me lembro,da parte da assembleia e governo juntos, de tão grande demontração,de, insulto, desconsideração e desprezo, para com a Nação, o seu Povo e todos os que neste planeta e fora dele, observam as sagradas regras da Ética e do Direito.
Bic Laranja,
um senhor militar disse uma vez que não se importava muito com Salazar, o que o assustava mais, porque era bem pior, era os salazarinhos. Também nesta, como em muitas outras, o pior são aquele grupo enorme de idiotas que gostam muito de mostrar serviço. Os sabujos, portanto…
…”grupo enorme de idiotas que gosta”…
Estou inteiramente de acordo com os comentários anteriores, também já o tenho dito: uma Resolução da Assembleia da República ou do Conselho de Ministros (que aprovaram e estão a impor o AO90) não têm força legal para revogar Decretos-Leis, como o Decreto de 1945 e o Decreto-Lei de1973 que promulgaram o AO45. Logo, o AO45 mantém-se actual e continua legalmente em vigor.
Infelizmente vivemos no reino do vale tudo a murro e a pontapé, desde que venha da parte de “quem manda”, como se tem comprovado pela animalesca e catastrófica acção da actual governança.
E não só: veja-se o alerta para o perigo referenciado no comentário #4.
Permito-me chamar a atenção para o “Comentário do Remetente” que escrevi a seguir à carta que enviei há meses ao Sec. Est. da Cultura (agora é outro, mas tanto faz):
http://ilcao.com/?p=5712
Pedindo desculpa pela insistência num texto meu, transcrevo esta passagem desse meu comentário:
«Se é certo que vivemos em Democracia Constitucional, também é certo que a tendência da governança, na prática, é tornar-se cada vez mais autocrática e despótica — sirva-nos de exemplo, entre muitos outros noutras áreas, o método brutal, para não dizer selvagem, com que o AO90 está a ser imposto a uma Pátria inteira, por uma minoria surda a toda a lógica e a todo o bom senso porque, detendo o poder, só atende à gula dos lucros imediatistas. Tenho observado que estas situações comportam geralmente três grupos (para além de uns poucos lúcidos que estão contra a instaladura e cujas vozes mal se ouvem): uma minoria de crápulas no topo da cadeia alimentar; um grupo bastante maior de oportunistas que aspiram tornar-se crápulas; uma larga base de carneirame acéfalo que aceita tudo o que vem de cima “porque sim”. É nesta vasta passividade acrítica que os primeiros alicerçam o poder que detêm.»
Cuidado com os sabujos, portanto.
No mesmo texto e página da Boletim da OA, está igualmente uma referência do Dr. Vital Moreira, obviamente a favor da coisa. Se bem que cheia de generalidades, inconsequências (para não dizer outras coisas mais contundentes) e alguns erros de palmatória no Direito (bem explicados pelo colega de Faculdade), existe contudo uma passagem que me causou alguma espécie, a saber: “não existe, a meu ver, nenhum problema jurídico sobre isto [AO90]. E se houvesse, a recente decisão de um tribunal sobre o assunto vai clarificar a matéria”.
Em primeiro, acho que há uma gralha. Suponho que seja “veio” e não “vai”. Mas a pergunta é: que decisão e que tribunal? E em que contexto?
Alguém sabe?
A única decisão de um Tribunal sobre o assunto, que me recorde, foi a do Juiz de Viana do Castelo: http://ilcao.com/?p=4894
O avô cantigas não passa de um moço de recados.
JPG,foi decisão do tribunal, ou foi tomada de posição do juiz?
@Hugo X. Paiva e @António de Macedo.
Uma simples opinião de um ainda mais simples leigo em matérias jurídicas: estando exarada em documento oficial (já que não é particular, evidentemente) e com despacho de notificação (“notifique”) assinado por um Juiz parece-me que estamos em regra perante uma ordem formal emitida por uma autoridade com legitimidade para o fazer; esta ordem é dirigida a determinado/a agente, isto é, alguém envolvido no processo de justiça (não apenas no caso em apreço mas em todos e doravante), pelo que não se destina a produzir efeitos para além do objecto, elementos envolvidos e serviços a que se destina ou refere expressamente.
Hugo X. Paiva:
A sua pergunta no comentário #10 é uma boa pergunta, à qual não sei responder porque não sou jurista.
Atrever-me-ia a responder com outra pergunta: trata-se de uma notificação oficial, assinada pelo juiz de direito, e escrita em papel timbrado do Tribunal Judicial de Viana do Castelo – 2,º Juízo Cível, com o selo da República Portuguesa. Mesmo que seja uma tomada de posição do juiz, o acto formal em si, pelas suas características formais, não envolve o próprio tribunal?
Sem comentarios!
http://jornaldeangola.sapo.ao/19/43/imprensa_e_liberdades_em_portugal
A RCM nº 8/2011, de 25 de Janeiro, teria, se pudesse ter (e não pode!), efeitos nas entidades definidas pela própria, a saber, órgãos e serviços dependentes do Governo.
Ficam, portanto, excluídos os tribunais, a Assembleia da República, as autarquias e todas as entidades privadas.
Porém, a RCM nº 8/2011, de 25 de Janeiro, não pode produzir efeitos. Não pode, desde logo, porque não é uma norma, sendo, eventualmente, uma “ordem” (no sentido de ‘comando’, ‘imposição’). E não pode, também, porque, ainda que fosse ‘norma’ (entenda-se, de carácter regulamentar), seria ilegal (por não nascer ao abrigo de qualquer diploma legal).
Mas, a RCM nº 8/2011, de 25 de Janeiro, padece de doença mais grave. É que o seu conteúdo traduz um comando que balanceia entre o ilegítimo e o impossível. Ilegítimo, por ser contra a ordem de Direito. Impossível, porque não estabelece a exacta conduta funcional.
Quanto ao despacho do Juiz, aqui referido, produz efeitos naquela situação concreta (é dirigido a uma pessoa, por causa de uma peça processual). Contudo, há um pormenor no despacho (é referida uma “ordem de serviço”) que faz supor uma regra interna daquele juízo, sendo, então, o despacho mera aplicação ‘in casu’.
É claro que o problema é a total ausência do Estado-de-Direito. No século XIX, os filósofos e juristas reviam-se no “estado de legalidade”, o que não deixa de ser empobrecedor, pois reduzir o Direito a uma mera ‘legalidade’ é, caricaturalmente, como atribuir valor jurídico ao manual de instruções do fogão, porque contém normas escritas e que são obrigatórias…
Hoje, porém, não há como não sentir nostalgia por causa dessa tão redutora perspectiva. Na verdade, somos governados por resoluções, desprezados quando invocamos as leis e olhados como doidos quando referimos a Constituição. A pirâmide das normas já nem sequer está invertida. Foi banida.
Que espaço fica para falar de Direito?
Manda quem pode, mas não deve. Obedece quem está por perto e precisa.
Difícil, por isso, não ter saudades de tão canhestra visão desses simpáticos oitocentistas. Sabiam, ao menos, o valor formal de uma norma. E sabiam ler…